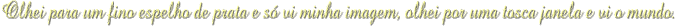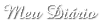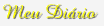OS ERROS E ACERTOS DO FILME “HANNAH ARENDT”
Foi exibido no cinema Net Botafogo, há alguns anos, o filme “Hannah Arendt” da veterana cineasta alemã Margareth von Trotta, especializada em retratar a vida de grandes personalidades femininas da história alemã, como a revolucionária Rosa Luxemburgo e a freira medieval Hildegaard von Bingen. O filme de Trotta aborda a polêmica cobertura jornalística que a filósofa judia-alemã Hannah Arendt fez como correspondente da revista The New Yorker para o julgamento do carrasco nazista Adolph Eichmann em Jerusalém. Seus artigos na referida revista deram origem ao seu mais contestado livro: “Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal”. Onde apresenta sua polêmica tese conhecida como a “banalidade do mal”, que ainda hoje suscita as mais variadas interpretações. O filme de von Trotta não examina, em toda a sua extensão, a vida e a obra da grande filósofa política, mas apenas a sua curta e conturbada contribuição à The New Yorker, enfatizando dois fatos relevantes ocorridos durante o Holocausto nazista, analisados por Arendt em seus artigos para a citada revista. O primeiro deles, acerca das atividades de Eichmann, considerando-o um “simples e medíocre burocrata”, e o segundo, atribuindo uma dose de culpa aos Judenrats, (conselhos administrativos judaicos) pela colaboração com os comandos nazistas. Ambos serão considerados pela filósofa como duas faces de uma mesma moeda. O filme bateu claro na tecla de que segundo a filósofa, o mal não é praticado por pessoas radicalmente más, como se pode pensar, mas é produto de ação de pessoas medíocres, banais e burocratizadas que colaboram com uma grande máquina do mal, da qual são apenas uma pequena peça. É dessa forma que Von Trotta percebe Arendt olhando para um Eichmann encarcerado numa cabine de vidro instalada no tribunal em Jerusalém, considerando-o tão –somente “um velho medíocre, banal e burocrata”. Enfim, o filme explicita a ideia de que a tese de "banalidade do mal” consiste em que este é antes produto da mediocridade do que da perversidade humana propriamente dita. No entanto, as idéias de Arendt não são tão simples, permitindo várias vertentes interpretativas, como por exemplo, a de que no estado de mal absoluto implantado no III Reich qualquer indivíduo se tornava medíocre, pois ficava reduzido a um dente de uma grande engrenagem deste mal. Entretanto a idéia atribuída a Arendt de um Eichmann considerando-o tão–somente “um velho medíocre, banal e burocrata", não me parece correta por retirar o indivíduo Eichmann do contexto em que praticou seus atos, uma vez que a parte não pode ser arrancada e analisada isoladamente do todo ao qual pertenceu. Eichmann, ou qualquer criminoso, quando aprisionado e isolado, torna-se um medíocre e indefeso joão-ninguém. Até os piores serial killers quando vistos em suas celas, parecem indefesos. Foi a esse Eichmann idiotizado em sua cabine de vidro que Arendt (pelo menos no filme, as câmeras apontam várias vezes para a atriz que representa a filósofa olhando para Eichmann com condescendência) dirigiu seu foco. Porém o Eichmann em julgamento nada tem a ver com o velho enjaulado, mas era aquele que esteve em ação como importante engrenagem da grande máquina de extermínio engendrada pelo nazismo. Juntamente com o “burocrata” Eichmann trabalhavam concomitantemente químicos, para fabricar o mais letal dos gases, médicos para avaliar o limite de resistência humana ao sofrimento físico, engenheiros para construir campos e fornos, maquinistas de trens abarrotados, bem como o mais cruel e implacável aparato policial de perseguição jamais montado: a Gestapo. Quaisquer desses indivíduos capturados e postos em celas isoladas nada significavam, mas atuando em conjunto, unidos por uma forte argamassa social que era o ódio patológico aos judeus, criaram a mais sangrenta máquina de extermínio em grande escala da história. Portanto, a Arendt ( apresentada no filme e possivelmente a própria) não distingue um Eichmann encarcerado e idiotizado com o Eichmann em ação. Entretanto, é bom que se diga, em defesa da filósofa, que Hannah Arendt jamais absolveu Eichmann por seus atos, pelo contrário, considerou justa a sua pena capital. Afinal, a importância do carrasco no aparato de extermínio era tão grande que se ele deliberadamente atrasasse um único trem por dia, simulando algum defeito, poderia ter poupado milhares de vítimas, tendo provavelmente sua pena comutada. No entanto, “o velho e banal burocrata” encarcerado em Jerusalém, nada fez quando ainda não era “um velho e banal burocrata”, mas um importante organizador da logística da carnificina (leia-se a organização do transporte ferroviário dos judeus rumo aos campos de extermínio). E aí se caracteriza a diferença entre os “banais” e os “excepcionais”. Os primeiros atuam como dentes de uma grande máquina do mal (movidos cada qual pelo ódio comum) enquanto os segundos arriscam a vida para afrouxar um pequeno parafuso, conseguindo assim atrasar a inexorável marcha para a morte sistemática. O afrouxamento do parafuso faz a grande diferença e Eichmann tinha poderes para fazê-lo. O segundo grande foco do filme é mostrar uma Arendt muito crítica em relação aos Judenrats, os conselhos judaicos instalados nos guetos, acusando-os de colaborar com os comandos nazistas, entregando-lhes listas de judeus a serem prioritariamente transportados nos comboios da morte. Ao acusar as Judenrat, a “Arendt” personificada no filme de Trotta, comete o erro filosófico que cometera antes em relação a Eichmann, qual seja, o de isolar os indivíduos do contexto em que atuavam. Evidentemente um indivíduo em condições-limite de sobrevivência abandona quaisquer princípios éticos de forma a se autopreservar. O limite da ética é a preservação da própria existência. Exatamente neste limite atuavam os membros das Judenrats e seria possível que Arendt deixaria de sabê-lo? O equívoco seria então da filósofa ou da cineasta? Era notório que entre seus membros haviam os que queriam, para salvar sua pele e de seus familiares, “mostrar serviço” aos alemães, mas haviam os que, sob toda a sorte de ameaças e chantagens, foram solidários ao sofrimento de seus pares, conseguindo, sob grande risco de morte, salvar muito deles, ou pelo menos, mitigar os terríveis castigos que lhe eram aplicados. Parece ter sido dado pela cineasta um tratamento simétrico entre a banalidade de Eichmann e a dos Judenrat, implicando no absurdo de considerar os judeus tão culpados pelo genocídio quanto os carrascos nazistas! Resumindo, o filme “Hannah Arendt” de von Trotta não retrata, em toda a sua plenitude, a obra da autora de “As origens do totalitarismo”, discípula de Karl Jaspers e de Martin Heidegger, mas se contenta apenas com um recorte de sua obra, explorando as possíveis contradições filosóficas cometidos em sua fase americana de “repórter” da New Yorker, provavelmente com a intenção de mitigar a culpa coletiva que se apossou da geração alemã do pós–guerra, com a seguinte idéia: “Eichmann e os judeus das Judenrat, igualmente classificados sob a etiqueta da banalidade do mal , são farinha do mesmo saco. Como comparar um notório antissemita, movido por um ódio que remonta, como vimos, a tempos medievais, reforçado pela virulência antissemita de Lutero, com judeus que viviam sob a mira de fuzis? Que banalidade do mal pode colocar em pé de igualdade sujeitos tão radicalmente distintos, submetidos a condições tão diferentes? A única afirmação que podemos fazer sem risco de erro é que todos viviam aterrorizados sob um regime comandado por um pequeno grupo de psicopatas, e este profundo medo poderia atingir até os ocupantes dos mais altos cargos do regime. Eichmann, além do ódio pessoal que nutria pelos judeus, agiria também sob a pressão de um profundo medo de seus superiores e não por ser um banal burocrata do mal. Nascida em 1942, von Trotta, personifica o trauma da geração alemã que ainda se corrói de culpa pelos crimes cometidos por seus contemporâneos mais velhos. Desta forma, a cineasta parece querer fazer de Arendt uma espécie de testemunha de defesa, ou talvez até um álibi, acima de qualquer suspeita, de outro julgamento bem maior: o do povo alemão. Afinal as polêmicas teses de Arendt, apresentadas com tamanha ênfase no filme, acerca da banalidade do mal nazista, bem como da cumplicidade das Judenrat teriam o peso de uma grande e insuspeita filósofa judia. No entanto, o filme tem a virtude de mostrar com minúcias o auto isolamento que Arendt se impôs, ao perder, um a um, seus mais queridos amigos judeus de infância como o esclarecido sionista Kurt Blumenfeld, além de seu colega e amigo dos bancos universitários na Alemanha, o notório pensador Hans Jonas, além da escritora Mary MacCarth que lhe viraram as costas, ao se sentirem estupefatos com suas inusitadas “teses americanas”. Trotta omite, entretanto, detalhes mais pormenorizados da conturbada relação da filósofa com Martin Heidegger, de quem foi discípula e amante. O filme não revela detalhes do abandono e indiferença que lhe impôs o autor de “Ser e Tempo”, nem mostra que Arendt acaba sendo traída pela cultura germânica, pela qual havia sido seduzida, É possível supor que esta fatídica relação amorosa tenha sido bem mais importante para o desenvolvimento de suas últimas teses do que o filme ousa mostrar.
texto extraído do livro "Da Babilonia ao Brasil: o improvável milagre da existencia, ed. Garimpo S.P., 2018. Roberto Leon Ponczek
Enviado por Roberto Leon Ponczek em 09/05/2023
Alterado em 05/08/2023 Copyright © 2023. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor. Comentários
|