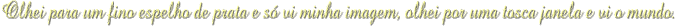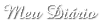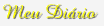A TRAGÉDIA DO EDIFÍCIO SANTA LEOCÁDIA*Em 1975, fui morar num antigo prédio na Travessa Santa Leocádia, situado a apenas 50 metros ladeira acima da rua Pompeu Loureiro, mas já dentro de um pedacinho de mata atlântica, que sobreviveu agarrada no sopé do morro do Cantagalo. O antigo prédio era constituído por dois blocos que se interligavam por um elevador que deslizava sobre um plano inclinado, equilibrado por um sistema de contrapesos: quando a cabine do elevador subia, o contrapeso descia e vice- versa. Devido à sua privilegiada localização, o prédio era um reduto de artistas, atores e intelectuais. Morava nesse incomum edifício duplo, o ator Nelson Xavier com quem cheguei ter uma breve discussão quando ele saia de carro do estacionamento enquanto eu entrava e quase tivemos uma colisão. Ele saiu do carro me perguntando agressivamente se eu era morador do prédio. Eu o reconheci e lhe disse: "você não é o Catitu do filme “A Rainha Diaba?" Ele confirmou e acabamos rindo da situação. Prometi-lhe que dá próxima vez eu entraria no pátio do estacionamento com menos pressa. Moravam também a atriz e escritora Teté Medina e o ator Rubens Correa, diretor do Teatro Ipanema que era meu vizinho de porta no térreo do primeiro edifício. Meu apartamento era um quarto e sala térreo, com uma varanda frontal que dava para um pequeno jardim gramado onde margaridas brancas com botões amarelos se alternavam com belos hibiscos vermelhos e eu tinha mais adiante à minha frente um pequeno bosque de frondosas mangueiras, amendoeiras e ipês roxos a me servir de cortina. Era realmente um belíssimo lugar, impensável em Copacabana já naquela época totalmente tomada por edifícios colados uns aos outros formando grandes paredões de concreto. O edifício no 19 da Travessa Santa Leocádia ficava dentro de um oásis verde em plena Copacabana e parecia estar situado em outro bairro mais bucólico como a parte mais alta do Cosme Velho ou até mesmo Santa Teresa. Meu colega Chico Quental da PUC, ex-presidente do diretório acadêmico de Física, também residia no prédio e sempre que nos encontrávamos conversávamos sobre nossos ilustres vizinhos, bem como sobre a terrível situação do país vivendo sob a ditadura militar que nos sufocava com a censura implacável, as prisões arbitrárias, o estado policial que fazia que tremêssemos de medo diante do vizinho de porta ou do porteiro, pois qualquer um deles poderia ser um informante ou delator. Eu tinha lido O Capital e a Ideologia Alemã de Marx e várias biografias de ícones do comunismo como Lenin, Mao e Trotsky. E as conversas com Quental eram muito acaloradas e de alto nível, pois Chico era um cara culto e conhecia muito bem os fundamentos do marxismo. Nessa época, eu era um radical de esquerda, quase raiando o anarquismo de Bakunin: “toda propriedade privada é um roubo”. Já Chico tinha posições mais moderadas e racionais. Eu seguia a máxima de George Clemenceau, parodiada por George Bernard Shaw: “Quem não foi comunista aos 20 será um idiota aos 40”. Vivíamos ainda sob o arbítrio do AI-5, o mais duro de todos os Atos Institucionais que tinha sido emitido pelo presidente Costa e Silva em 13 de dezembro de 1968. Isso resultou na perda de mandatos de parlamentares contrários aos militares, intervenções ordenadas pelo presidente nos municípios e estados e também na suspensão de quaisquer garantias constitucionais que eventualmente resultaram na institucionalização da tortura, comumente usada como instrumento pelo Estado. O Congresso e o Supremo foram fechados e não havia eleições para governadores nem prefeitos, que eram ungidos pela cúpula militar, sendo chamados de "biônicos". O Santa Leocádia no 19 era um lugar especial que nos dava uma sensação de proteção e um sentido de pertencimento a uma comunidade alternativa e até contestadora do regime militar. Era um oásis não só ambiental como também político. Um simples cumprimento formal como uma troca de um "olá", um "bom dia", "boa noite" com meus vizinhos já me dava essa sensação de confraternização e irmandade, pois me identificava como alguém que compartilhava um sentimento ecológico e uma posição política comum. Eu começava minha carreira universitária de professor de Física na PUC, e no meu pequeno studio recebia constantemente vários amigos músicos e físicos e fazíamos rodas de violão sentados em grandes almofadas dispostas num círculo, bebericando muitas cervejas e alguém sempre enrolava um "baseado" para passar de boca em boca, como se fosse um cachimbo da paz. Quase todos meus amigos naquela época sabiam tocar pelo menos alguns acordes de bossa-nova ou faziam belos solos de músicas nordestinas de Luiz Gonzaga. Asa Branca, assim como Carcará de João do Valle, era um hino de resistência do povo nordestino frente às piores condições de sobrevivência, como a implacável seca, a exploração dos grandes senhores de terra e a pobreza extrema, e para nós representava também um verdadeiro hino de resistência à ditadura. Eu e meu amigo Jorge Sá Martins ficávamos horas improvisando, em dois violões, em longas variações nas escalas telúricas de Asa Branca. Jorge morava numa comunidade de físicos na Lagoa Rodrigo de Freitas, e quando ia visitá-lo recomeçávamos nossos longos improvisos com idéias inesgotáveis na tonalidade de Ré maior. Caetano, Chico, Vandré, Edu Lobo, Caymmi, Baden, Jobim eram também nossos grandes ídolos e porta-vozes de nosso inconformismo. Em 1967, um desconhecido e tímido rapaz negro, que usava sempre um boné, veio de Minas e tinha uma voz aguda e poderosa, causando espanto no Festival lnternacional da Canção do Rio. Era Milton Nascimento, que chegava tendo em sua bagagem Travessia, Morro Velho, Sentinela, Canção do Sal e outras canções que eram sofisticados objetos não identificados, pois sua música não se parecia com samba, nem bossa-nova, nem música folclórica, nem nada que se conhecia até então no Rio. Ele introduziu novas e sofisticadas harmonias e cada novo acorde que eu aprendia, como os de sétima e nona ou de quinta aumentada ou diminuta, era uma grande descoberta para mim. Passávamos horas aprendendo, uns com outros, essas novas harmonias vindas de Minas. Em 1970, eu tinha ido a Belo Horizonte com alguns colegas para a reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciencia (SBPC) e tivemos o privilégio de conhecer, numa casa da Pampulha, a turma de músicos que tinha os irmãos Lô e Marcio Borges, Wagner Tiso, Beto Guedes, Fernando Brant, entre outros, que ficou famosa como sendo o Clube da Esquina. Milton Nascimento era um silencioso gurú dessa turma. Enquanto isso, no Santa Leocádia a boa música e o cheiro penetrante da cannabis que escapavam das janelas, eram tão comuns quanto o cheiro de uma feijoada sendo feita na casa do vizinho, e nos andares de cima um desconhecido violinista praticava diariamente seu instrumento, exercitando-se com as Partitas de Bach para violino solo. Era o “Violinista no Telhado” como o chamávamos. No quarto andar, exatamente acima da minha varanda, morava um casal de gays. Um deles era baixinho, magrinho e meio careca de barbicha que usava óculos de aros redondos de metal, estilo John Lennon, e o outro era um belo rapaz grisalho e esbelto, bem mais alto e forte que o companheiro. Já naquela época tão cerceada politicamente e muito preconceituosa em relação aos gays, me acostumei a ver como normal dois homens andarem de mãos dadas a trocarem beijos de despedida e de chegada. Era um casal homossexual como outro qualquer casal hétero. Não havia sequer a complicada designação de LGBTQ+ para designar as opções sexuais dissidentes de hoje e o termo usado era ainda GLS (gays, lésbicas e simpatizantes). O ir e vir do casal G não despertava nenhum tipo de constrangimento ou incômodo em nossa comunidade leocadiana de intelectuais de vanguarda. De minha varanda, podia observar o movimento de todos os moradores saindo ou chegando ao prédio e os dois rapazes pareciam se gostar muito e faziam as rotinas domésticas, como ir à feira e ao supermercado, sempre juntos. Cheguei a encontrá-los várias vezes no Cine Paissandu, reduto da intelectualidade carioca, onde se exibiam filmes da nouvelle vague de Jean Luc Godard e François Truffaut, do surrealismo de Federico Fellini e Luis Buñuel, do realismo italiano de Vittorio de Sica e Roberto Rosselini, do Cinema Novo de Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos, dentre tantos outros cineastas de vanguarda na década de 70. O Paissandu, na rua Senador Vergueiro no 35, era um dos poucos cinemas cult que ainda resistiam no Rio e depois da seção, boa parte da plateia se deslocava para o Lamas para tomar o melhor chopp do Rio e discutir o filme. Muitos levavam debaixo do braço os Cahiers du Cinema, uma das mais importantes revistas de cinema do mundo. Era a chamada “geração Paissandu”. Meus vizinhos G pareciam aderir à dupla jornada de cinema cult seguida da esticada ao Lamas. Era raro casais gays manifestar publicamente seus afetos e, nesse sentido, meus vizinhos eram precursores numa época em que os movimentos de emancipação sexual ainda eram muito incipientes e quase nulos num Brasil amordaçado pela ditadura militar. É curioso que os heterossexuais quando observam um casal gay, instintivamente se perguntam qual deles é o ativo e qual o passivo na relação. Eu achava que o rapaz baixinho de barbicha parecia ser o mais feminino, enquanto o alto grisalho me parecia ser mais másculo. Será que a aparência, mais feminina ou masculina, é que define os papéis sexuais dos casais homossexuais? Será que constroem a linguagem de seus corpos e usam vestuários de acordo com esses papeis? São eles fixos ou alternados? Jamais tive coragem de fazer essas perguntas aos meus amigos e amigas G e L e o mundo LGBTQ+ continua sendo tão misterioso para mim quanto a própria sigla. Meses depois, sem que ocorressem grandes novidades na “República” de Santa Leocádia, vi que o rapaz baixinho de barbicha e óculos de aros de metal redondos se fazia acompanhar por uma jovem mulher, saiam e entravam juntos no prédio. Imaginei que a moça poderia ser uma amiga do casal G. A vida seguia normalmente no meu verde oásis onde estava protegido da fumaça e do barulho dos carros que trafegavam 50 m abaixo na Rua Pompeu Loureiro. Eu tinha uma boa barraca de acampamento com todos os apetrechos para cozinhar e um bom saco de dormir que me protegia do frio serrano. Nos fins de semana, prolongados por algum feriado, eu viajava com alguns amigos para acampar nas serras em Mauá, Itaipava e também nas praias da região dos Lagos próximo a Saquarema, onde se organizavam festivais de contracultura com muito sexo, drogas e rock and roll, ao estilo Woodstock tupiniquim. Eram outras tribos de oposição à ditadura, talvez não tão conscientes como o pessoal da esquerda, mas, sem dúvida, manifestações distintas de uma mesma causa: oposição e rebeldia frente à ditadura e à repressão. Ao chegar exausto de uma viagem a Mauá, onde fui acampar, me deitei cedo e adormeci quase imediatamente. Algumas horas depois ouvi fortes ruídos vindos de andares de cima. Pareceu-me que objetos pesados estavam sendo arremessados violentamente contra a parede, mas ainda exausto adormeci mesmo com os ruídos cada vez mais intensos. No meio da madrugada, despertei com um grande estrondo grave e abafado, parecendo que um móvel pesado, como um sofá, tivesse sido atirado pela janela e caído no jardim contíguo à varanda. No entanto, o cansaço e o sono me fez dormir novamente. Na manhã seguinte, já refeito do cansaço e quando me preparei para ir trabalhar, vi um carro da polícia estacionado no pátio e o jardim estava isolado por cordas. Encontrei na portaria o Chico Quental e lhe perguntei: - Chico, você sabe o que está acontecendo aqui? - Você não ouviu nada durante a noite? - Sim, ouvi fortes ruídos como se objetos estivessem sendo jogados contra a parede, mas adormeci e depois de algum tempo fui despertado por um ruído ensurdecedor no jardim. - E você não foi ver o que tinha acontecido? - Não, estava muito cansado e sonolento. - Caramba! Você nem imagina o que aconteceu! - Não, realmente não sei. - Você conhecia o casal de homossexuais que morava no quarto andar, bem acima de você? - Sim, claro os conhecia de vista. - Pois é, houve uma terrível briga entre eles por causa de uma mulher que um deles tinha arranjado. - Realmente, há alguns meses atrás vi o baixinho entrando no prédio com uma moça. - Isso mesmo, Carlos, o baixinho estava namorando a moça e queria se separar do Alberto, o cara mais alto de cabelos grisalhos. - Sim, e o que foram os terríveis ruídos que ouvi à noite e de madrugada? - Pois é, sou vizinho de porta deles e ouvi o Alberto gritando palavrões e começando a atirar objetos contra o Carlos, ameaçando-o de morte e de se matar em seguida. Depois de muita briga, e com a decisão do Carlos de ir embora, o Alberto se atirou da janela e caiu no jardim bem na frente da varanda do seu apartamento. Carlos o levou ainda com vida para o hospital, mas ele não resistiu e morreu… - Puxa Chico, que história terrível! Despedi-me de Chico Quental e reparei que vários dos hibiscos de meu jardim jaziam tombados no chão, as margaridas pareciam ter sido pisoteadas e na grama afundada estava impressa a marca de um corpo humano e o fim de uma trágica relação...
* Essa crônica foi inserida como um dos capítulos do romance "Confissões de um judeu em busca da brasilidade". Ainda inédito, à espera de uma boa editora.
Roberto Leon Ponczek
Enviado por Roberto Leon Ponczek em 12/09/2020
Alterado em 23/01/2024 Copyright © 2020. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor. Comentários
|